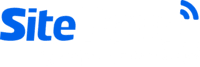Hoje, considerado o “dia da criação”, Vinicius de Moraes estaria completando 111 anos de uma vida repleta de avassaladoras paixões, incontáveis farras e maravilhosas mulheres, além de muita poesia e algumas dores de seis casamentos desfeitos que, obviamente, “sempre eram curadas com um novo amor”, dizia.
Especialmente “porque hoje é sábado”, há mais de século o Criador resolveu mandar ao mundo uma de suas mais doces e generosas criações, e a batizou com um nome no plural — Marcus Vinícius —, pois, o singular, seria tão simplório quanto incompatível para com a sua enorme genialidade, a imensurável solidariedade e sua incomparável devoção aos amigos.
E, como fui um dos seus “discípulos” — somente na poesia —, vou revelar um segredo que guardei feito uma relíquia, quando fui personagem de uma história quase inverossímil, na década de 1970, ao desfrutar de sua inigualável amizade.
E a história teve início em 1969, durante o “Festival de Inverno de Ouro Preto”, Minas Gerais, quando o encontrei na calçada em frente de um hotel projetado por Oscar Niemeyer, e mal tive tempo para lhe entregar um livreto impresso em mimeógrafo — “Pequena canção para uma pátria qualquer” — que havia escrito como uma panfletária e lírica resposta poética ao regime militar que entrava em sua fase de maior repressão.
Cercado por inúmeros admiradores, o “poetinha” — como era, carinhosamente, chamado —, também mal teve tempo de ler o título do livreto, nem de agradecer, e logo o guardou no bolso do casaco de couro e entrou no hotel.
À noite, durante o show, o apresentador anunciou:
“Vinicius de Moraes gostaria de falar com o poeta que lhe entregou, na porta do hotel, um livro impresso em mimeógrafo”.
Incrédulo, por uma eternidade de alguns segundos, fiquei pesando quem seria aquele “poeta do mimeógrafo” que havia despertado o especial interesse do célebre Vinicius de Moraes ao ponto de o locutor fazer aquele surpreendente e “perigoso” anúncio!?
No outro dia, ao acordar em um saco de dormir, com os primeiros raios de sol desvirginando a névoa da Praça Tiradentes, tomei um susto ao pensar que poderia ser eu o destinatário do anúncio e voltei à porta do hotel, onde esperei que o “poetinha” acordasse da longa noite acalentada por incontáveis doses de uísque, belas mulheres, canções e poesias.
Quando estava quase desistindo, ele surge na recepção, às 16 horas, com um copo de uísque em uma mão e o meu livreto na outra, e disse:
“Você esqueceu de autografar!”
Ainda incrédulo, dei o primeiro autógrafo na vida, surpreendentemente, para Vinícius de Moraes, e jamais imaginava que os meus versos rebeldes e panfletários pudessem despertar a atenção de um dos maiores escritores brasileiros.
Conversamos, reservadamente, sobre aquele momento dramático e angustiante do Brasil em que tínhamos a morte lambendo os nossos calcanhares quando alguns “foram desaparecidos” e os seus corpos jamais tiveram direito à sepultura.
Ao nos despedirmos, ele me aconselhou a “tomar cuidado”, e disse:
“Os seus versos, por certo, não irão derrubar a ditadura militar, mas são os mais intensos, dramáticos e emocionantes que li em louvor à liberdade”.
Em seguida, escreveu o seu endereço em um guardanapo de papel — Rua Frederic Eyer, 149, Gávea, Rio de Janeiro — onde viveu e, em 9 de julho de 1980, beijou a face da eternidade.
Em abril de 1970, motivado pelas palavras incandescentes do grande Vinícius de Moraes, que instigavam os meus sediciosos sentimentos, voltei a Ouro Preto com mais alguns livretos escondidos na mochila e impressos em mimeógrafo; mas, agora, também escrevia nos muros da “cidade dos inconfidentes” a frase mais lida por nossa geração: “ABAIXO A DITADURA!”
Na época, o meu companheiro de rebeldias libertárias era Antônio Carlos Bicalho Lana, conhecido como “Cauzinho”, quando o Exército fechou as seculares ruas de “água correr no meio” e fugimos pela mata, durante três dias e três noites, até chegarmos em Ponte Nova, onde ele pegou um trem para Belo Horizonte; e, na Estação Rodoviária, em frente, eu pegaria um ônibus para Vitória, a capital do Espírito Santo.
Naquela madrugada fria, o trem partiu levando “Cauzinho” para sempre e nunca mais o vi — meses depois, soube que ele havia sido assassinado pela Polícia Política —, enquanto isso, na Rodoviária, eu era preso pelo DOI/CODI e levado para o Quartel do Exército, em Belo Horizonte, acusado pelos “crimes de opinião e anseios de liberdade”.
Ao sair da prisão, no esplendor dos meus primeiros 18 anos de idade, voltei para a minha cidade, São Mateus, no Norte capixaba; porém, a senti “pequena para os meus sonhos, desejos e utopias”, além de “provinciana, paroquial e reacionária” para ler os meus poemas panfletários — principalmente por querer ser escritor —, quando arrumei a mala e fui viver no Rio de Janeiro, onde cheguei em 8 de agosto de 1971, morei nas pensões de terceira categoria da Lapa, Catete e Gamboa, escrevi 80 livretos da série OS ANOS DE CHUMBO, impressos em mimeógrafo, que, após a Anistia, foram publicados em 4 volumes de 620 páginas cada; mas, durante dois tormentosos e assustadores anos, permaneci na semiclandestinidade.
Em uma tarde, angustiado com a notícia do desaparecimento de meus companheiros — Vitorino Alves Moitinho, Ramires Maranhão do Valle, Ranúsia Alves Rodrigues e Almir Custódio de Lima, que foram presos, mortos sob tortura, e, depois, tiveram os seus corpos fuzilados e carbonizados pelo Exército, dentro do Fusca, placa AA6969, Guanabara, na Praça Sentinela, em Jacarepaguá, em 27 de outubro de 1973 — procurei o guardanapo que havia escondido na costura dos fundos da mochila, contendo a letra redonda de Vinícius de Moraes e fui andando a pé do Catete até a sua casa, na Gávea, sobretudo por não ter o dinheiro para a passagem!
Ao chegar, a empregada me convidou para sentar na cadeira de uma “mesa de bar”, que ficava no jardim, enquanto o “poetinha” ainda dormia, e o esperei por umas três horas, até que ele abriu a janela do quarto e fez sinal para que o aguardasse.
Minutos depois, Vinicius de Moraes veio andando descalço em minha direção — balançando o corpo para as laterais —, novamente com um copo de uísque em uma mão e, na outra, trazia com um saco transparente cheio de dinheiro, que o jogou por sobre a mesa e disse: “Favor contar e não apareça mais na minha frente!”. E entrou em casa, novamente jogando o corpo de um lado para o outro, e fechou a porta sem ao menos se despedir.
Mesmo não tendo dinheiro para pagar a passagem de ônibus e havia mais de uma semana não fazia uma refeição, achava que aquele saco de dinheiro não me pertencia, e não queria admitir que o meu ídolo e extraordinário Vinícius de Moraes estivesse “comprando” a minha consciência libertária ou tentando me fazer desistir de ser escritor e ou que eu abandonasse as lutas contra a ditadura militar.
Naquele momento, com um misto de surpresa e decepção, contei o saco de dinheiro como ele mandou — arrumei em maços de dez mil cruzeiros — enquanto relutava acreditar que ele havia me ofertado aquela fortuna para que desistisse de minhas pretensões literárias e virasse um alienado “novo rico”.
Depois de duas horas, quando a noite cobria o jardim com um negro véu, Vinicius de Moraes abriu a janela do primeiro andar e perguntou o que eu ainda estava fazendo ali e se faltava algum dinheiro.
Ao responder que havia contado tudo, mas não aceitava o dinheiro dele e, também, não sabia o que estava acontecendo; quando ele ficou mais assustado do que eu e, com um copo de uísque na mão, perguntou, quase gritando:
“Você não é o gerente da empresa que fez a obra aqui em casa?”
E, quando respondi: — Não! Eu sou o poeta panfletário que você conheceu no Festival de Inverno de Ouro Preto, há quatro anos, me deu o seu endereço e vim andando a pé do Catete até aqui, e, embora sem um centavo para pagar a passagem e muito menos para comer, não preciso de seu dinheiro… e o mandei enfiar naquele lugar, enquanto me levantei para ir embora.
Então, o generoso Vinicius de Moraes pediu, em quase desespero, que o esperasse, desceu as escadas correndo e veio em minha direção — igual um menino que corre de braços abertos para ganhar um brinquedo — e se jogou por sobre a mesa onde estava o dinheiro contado e arrumado em maços, e disse a frase que fez nos tornarmos ainda mais amigos, e ele a repetia sempre que nos encontrávamos:
“Me dá esse dinheiro que levei dois meses juntando, pois dinheiro na mão de poeta é um perigo!”
*Maciel de Aguiar é escritor