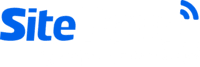*Denise Moura, Universidade Estadual Paulista (Unesp) / The Conversation
Quando o assunto é mapeamento, cartografia e mapas, o que vem à mente são figuras e performances masculinas, seja de exploradores, topógrafos ou cartógrafos. Porém, os mapas históricos do Brasil desenhados no século XVIII (por missionários de ordens religiosas à frente de expedições de mapeamento estatais) contêm os olhos, as mãos e os pés de mulheres indígenas.
Mapas, estes desenhos de territórios, são terreno de mulher não apenas na tradição de curadoria e tratamento histórico-analítico, como ocorreu no século XX e nas duas últimas décadas, mas também em seus traçados feitos no período colonial.
O primeiro e principal nome da catalogação dos mapas históricos do Brasil foi de uma mulher, Isa Adonias. Ela foi responsável por concluir, em 1960, a descrição e organização da coleção de mapas históricos manuscritos do Brasil colonial conservados no Arquivo do Itamaraty, no Rio de Janeiro.
Apenas em 1968 o geógrafo inglês John Brian Harley inaugurou em um artigo o que admitiu serem apenas linhas esqueléticas de uma metodologia para uma abordagem social e humanizada do mapa.
Isso impulsionou um campo de pesquisa, o da história social da cartografia, que nos últimos vinte anos se expandiu através da investigação de mulheres historiadoras. Algumas delas, inclusive, fazendo uso da cartobibliografia de Isa Adonias.
Quando observados em perspectiva de gênero e com o auxílio das teorias e dados de disciplinas como a arqueologia, a antropologia e a etnografia, os croquis e mapas do território percorrido por expedições de mapeamento ocorridas no Brasil no século XVIII evidenciam a face feminina indígena.

Sob essa abordagem, estes documentos denunciam as sutilezas das concepções patriarcais e masculinas ainda persistentes no modo como a ciência interroga. Muitos desses croquis e mapas foram posteriormente impressos em tipografias na Europa.
Missionários de ordens religiosas, como beneditinos, franciscanos e jesuítas, por terem tido relações diretas e continuadas com os povos indígenas produziram mapas mais potencialmente femininos, ao contrário daqueles feitos por cartógrafos profissionais, os então engenheiros militares.
Muitas vezes, esses profissionais desenharam o terreno sem nunca ter pisado nele e apenas reaproveitando croquis feitos no calor das expedições. Agindo assim, revestiam saberes, percursos e usos femininos indígenas com convenções técnicas da cartografia.
Como pesquisadora da História da Cartografia, foi somente ao colocar o difícil ponto final em uma pesquisa acadêmica em história da cartografia (que me absorveu por sete anos) que atinei para os danos epistemológicos que havia sofrido em virtude de uma ação de gênero, não necessariamente deliberada, mas de cultivo geracional.
Falo do blecaute do feminino, porém do feminino indígena nas fontes históricas que havia lido, relido e colhido dados sobre o processo de mapeamento e confecção de mapas do noroeste do atual estado do Paraná, região conhecida no século XVIII como sertões do Tibagi, Ivaí e Campos de Guarapuava.
Na ocasião, eu me perguntei: o que aconteceu com a mulher indígena mencionada em um ofício escrito em 7 de julho de 1769, pelo comandante geral das expedições, dando ordem a um de seus capitães para vestir a indígena que deveria seguir à frente dos soldados, juntamente com um padre capelão?
Ambos, o padre e a mulher indígena, ficaram incumbidos de se comunicar com os indígenas encontrados no trajeto, o que significa caminhariam lado a lado.
Entre 1769 e 1773, onze expedições fluviais e terrestres organizadas pelo estado monárquico português percorreram os ditos sertões do Tibagi para entender seus limites, características físicas e etnográficas ainda desconhecidas. Deveriam elaborar mapas para serem usados como documentos oficiais de embasamento das discussões com o rei e funcionários da Corte de Madrid para a definição da fronteira fluvial sul do Brasil.
Estas expedições foram bem-sucedidas, geraram vários croquis e mapas que circularam anexados em ofícios. Em 1 de outubro de 1777, foi concluído e assinado o primeiro Tratado de Santo Ildefonso, que assegurou para Portugal a navegação de rios e território situados no sul do Brasil.
A responsabilidade atribuída a esta mulher indígena e os desdobramentos da sua performance conduzindo comandantes e soldados território adentro foram relevantes. Nada, porém, foi mencionado sobre sua pessoa na narrativa masculina dos ofícios, que enalteceram incessantemente o padre beneditino nomeado para seguir ao lado da mulher indígena e os soldados.
Houve um blecaute das observações, ações e itinerários desta mulher. Foi então que, ao fim de uma pesquisa, voltei ao seu início para recuperar algo que deveria ter sido o começo, não fosse a força dos legados masculinos da cultura. Pude então constatar que alguns traçados dos mapas somente poderiam ter saído dos olhos e pés de uma mulher indígena.
Pesquisadoras da história indígena já demonstraram que mulheres indígenas eram colocadas à frente de expedições como intérpretes, para estabelecerem a comunicação entre mapeadores e populações nativas dos territórios mapeados.
Diante da experiência histórica de confrontos violentos entre os homens, tanto exploradores como indígenas, as mulheres transmitiam segurança e confiança nos encontros e negociações diplomáticas próprias dos processos de desbravamento, exploração e mapeamento de territórios. Estas mulheres exerciam um papel político de intérpretes e mediadoras.
Expedições de mapeamento de um território do Brasil ainda muito pouco conhecido ao longo de todo o século XVIII foram inúmeras. Aquelas que percorreram os sertões do Tibagi deixaram uma narrativa visual em um conjunto sequencial de 39 estampas coloridas representando os acontecimentos da expedição de número dez, umas das últimas, ou seja, quando praticamente estava concluído o empreendimento.
Se a mulher indígena foi ausente dos escritos dos soldados, do padre e do comandante autores dos ofícios manuscritos, o mesmo não ocorreu com o pincel de Joaquim José de Miranda, desenhista da época do qual nada sabemos.
Miranda recebeu a encomenda do governador de narrar visualmente a expedição. Em pelo menos três cenas, o artista registrou a presença da mulher indígena vestida, como anunciada no ofício, uma delas, como mostra a imagem abaixo, posicionando-a no centro da cena:
Na cosmovisão indígena da América do Sul existe uma divisão sexual do trabalho na qual a mulher desempenha determinados papéis que asseguram o existir do grupo.
Um deles é o cultivo das roças e a colheita dos frutos. Não significa que mulheres também não praticassem a caça em certos meios ou circunstâncias.
Este papel social ligado ao cultivo e colheita dos frutos definia a sua territorialidade que, em alguns casos, foi transposta explicitamente para os mapas feitos por missionários, como ocorreu no caso do padre que seguia pelos sertões do Tibagi ao lado da indígena guia e intérprete.
A este padre coube os créditos dos êxitos da expedição, mas o traçado de seu itinerário entregava a territorialidade da mulher indígena que o acompanhava. Isso se torna visível através dos registros das árvores frutíferas, espaços que eram costumeiramente percorrido por elas.

A invisibilidade da mulher indígena na história está relacionada à violência e desigualdade de gênero instaurada pela relação com o colonizador e sua herança cultural euro-masculinista, que negou a territorialidade feminina do momento do desbravamento ao desenho do território.
É através dos percursos, usos e saberes sobre o território que a mulher indígena afirma sua existência, sua identidade e, acima de tudo, a de sua etnia. Mapas são a expressão visual de territórios e territorialidades.
Negligenciar a mulher indígena de seus traçados e direções é mais uma maneira de negar e violar direitos originais de povos inteiros.
![]()
Texto escrito por Denise Moura, Professora Livre-docente do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual Paulista (Unesp)
Este artigo foi republicado de The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.